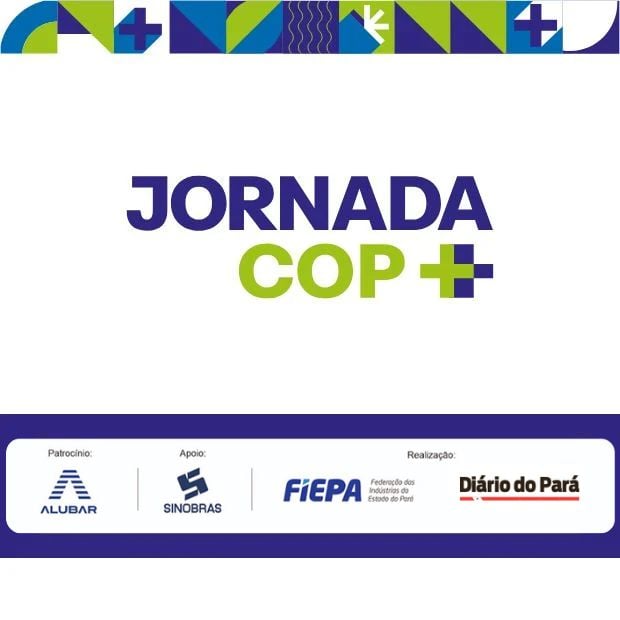De origem amazônica, a mandioca é um alimento essencial na dieta de mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo. A planta de raiz comestível e rica em amido é, historicamente, um dos principais alimentos dos povos indígenas do Brasil e continua sendo amplamente consumida. No Pará, ela faz parte da cultura alimentar e do cotidiano de várias famílias, sendo utilizada como alimento de subsistência por ser acessível, além de contribuir para a economia e a cultura do país. Mapear e fortalecer essa cadeia produtiva é um dos objetivos da Jornada COP+, movimento pela transição justa na Amazônia Brasileira, liderado pela Federação das Indústrias do Estado do Pará ( FIEPA).
A palavra mandioca tem origem indígena e deriva do termo “mandi’óka”, da língua tupi, que significa “casa de mani”. Sua raiz contém importantes nutrientes, como cálcio, fósforo e vitamina C. As folhas, além de nutritivas, são ricas em proteínas e possuem alto teor de lisina, um aminoácido essencial.
Os principais produtores da raiz no mundo são Nigéria, Congo, Tailândia, Gana e Brasil. De acordo com o IBGE, o Brasil contribui com quase 6% da produção global, entre 18 e 20 milhões de toneladas por ano. O Norte lidera a produção nacional, e o Pará é o estado brasileiro com maior produção. Em 2023, último dado consolidado pelo IBGE, a região foi responsável por 36% da safra, sendo mais da metade no Pará (57%). Foram produzidas quase 4 milhões de toneladas (3.769.677), o que gerou mais de R$4 milhões.
O principal polo produtor da raiz no Brasil está no Pará. É o município do Acará, que fica a mais de 100 quilômetros de Belém. A cidade responde por cerca de 600 mil toneladas anuais, o que equivale a um quinto da produção nacional (20,5%).

O Brasil exporta relativamente pouco da mandioca in natura, e mais seus derivados industrializados, como a fécula de mandioca e farinha. Ou seja, no próprio país, há o beneficiamento do produto, o que gera maior desenvolvimento e faz com que a mandioca já seja exportada com valor agregado. Segundo o Comex Stat, em 2023, o Brasil exportou cerca de 6,2 milhões de dólares em fécula, tendo como principais destinos os Estados Unidos, a Bolívia e o Paraguai. Já as exportações de farinha de mandioca totalizaram 2,8 milhões de dólares, com destaque para os Estados Unidos, o Japão e a Guiana Francesa como principais compradores.
Entre saberes ancestrais e inovação amazônica
Entre saberes ancestrais e inovação amazônica
Além do papel crescente da mandioca na balança comercial, sua valorização cultural e econômica também avança por meio de iniciativas como a da empreendedora Joanna Martins, fundadora da Manioca. A empresa trabalha com doze tipos de matérias-primas da região, sendo a mandioca a principal. Além disso, também promove educação alimentar, com difusão de conhecimento sobre ingredientes nativos e gastronomia amazônica.

Base da alimentação indígena e popular, a raiz é a inspiração da Manioca desde a fundação. “A mandioca sempre foi uma paixão da nossa família. O nome da empresa vem de uma lenda indígena, a lenda da oca de Mani. Crescemos ouvindo o meu pai dizer que o tucupi seria o tempero do século XXI”, relembra Joanna.
Tucupi, farinhas, farofas, molho de pimenta e shoyu amazônico, todos feitos com derivados da mandioca, são alguns dos produtos da empresa, que une saberes tradicionais e inovação. “A gente quer conectar o nosso gigantesco país com a região amazônica através dos nossos sabores. A principal motivação da Manioca foi tornar acessível o que antes só podia ser provado aqui em Belém ou em outros estados do norte”, conta.
A marca iniciou comercializando produtos de pequenos produtores, mas, com o crescimento, passou a fabricar seus próprios insumos, adquirindo matéria-prima diretamente de agricultores locais. A empresa também desenvolve o programa Raízes, que oferece assistência técnica, contratos de compra e apoio ao desenvolvimento rural, garantindo segurança para os produtores e melhorando a qualidade dos produtos.
Desafios e oportunidades da cadeia produtiva
Desafios e oportunidades da cadeia produtiva
Apesar de sua importância, o alimento ainda enfrenta barreiras culturais. “O que falta para a mandioca ser mais valorizada é a gente acabar com a nossa síndrome de vira-lata, de achar que o que vem de fora é melhor do que aquilo que é nosso. Temos um alimento nutricionalmente equilibrado, com carboidratos, fibras, minerais e vitaminas e sensorialmente muito gostoso”, afirma Joanna.
Além disso, a mandioca enfrenta desafios logísticos e estruturais. Por ter um baixo valor agregado, ela precisa ser processada próximo à área de produção. Caso contrário, o custo do frete acaba sendo superior ao valor do próprio produto, o que prejudica principalmente os pequenos produtores.
Apaixonada pelo tema, Joanna também atua na educação e divulgação científica da cultura da mandioca. Ela é líder do Comitê de Sociobioeconomia da Jornada COP+, que reúne representantes dos setores privado e público, do terceiro setor, profissionais e acadêmicos, e debate os desafios e oportunidades para o desenvolvimento do setor no Pará. “Por conta da Manioca, acabei me tornando pesquisadora no tema. Hoje, dou aulas, escrevo conteúdos e estou finalizando um livro sobre a mandioca e seus coprodutos na Amazônia, que deve ser lançado no início do ano que vem”, revela.
Para Joanna, valorizar a mandioca é mais do que reconhecer um alimento. É reconstruir o olhar sobre o Brasil originário. “É preciso que a gente, enquanto brasileiro, olhe para o que é nosso, e reconheça o valor real. Valor muitas vezes é uma construção. E a gente foi levado a acreditar que só produto europeu ou americano tem valor. Mas a mandioca tem sabor, tem história, tem nutrição. Se a gente reorganizar esse pensamento, vai perceber que ela vale muito mais do que muitos produtos por aí que a gente paga caro e que nem são tão bons assim.”
O Comitê de Sociobioeconomia é uma iniciativa que deve se estender para além da COP 30. A Jornada também possui o Programa de Sociobioeconomia, em parceria com o Instituto Bem da Amazônia (IBA) e o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA) da Universidade Federal do Pará. Entre as ações do programa está a criação de uma plataforma georreferenciada sobre as redes produtivas da região e a elaboração de estudos e relatórios sobre o setor produtivo da bioeconomia.
Sustentabilidade e cultura familiar como base
Sustentabilidade e cultura familiar como base
Outro exemplo de inovação no setor é o trabalho de Júlio Lobato, formado em Administração de Empresas e representante da Amazon Flavors. Atuando há uma década na promoção dos sabores amazônicos no Brasil e no exterior, a empresa investe em práticas sustentáveis e no fortalecimento da agricultura familiar, oferecendo apoio técnico a pequenos produtores para o cultivo da raiz, e a produção de derivados, como farinha e tucupi.

Entre os produtos desenvolvidos, além da tradicional farinha, estão o tucupi in natura, molhos e chutneys concentrados, que valorizam a tradição indígena e a biodiversidade regional. Com sede no Pará e foco na exportação, a Amazon Flavors é reconhecida por inserir ingredientes amazônicos no mercado internacional. “A gente quer levar para o Brasil e para o mundo os nossos sabores e nossa diversidade culinária”, destaca Júlio.
Mas apesar dos avanços, o fortalecimento dessa cadeia produtiva ainda enfrenta obstáculos. “Levar um alimento tipicamente indígena e amazônico para o Brasil e para o mundo é um grande desafio. Enfrentamos dificuldades com metodologias de uso, envase e vida útil. Quando falamos de mandioca, nos referimos à farinha e ao tucupi, que é o caldo extraído da raiz”, afirma.
A empresa também promove práticas agrícolas mais responsáveis, como o abandono das queimadas e o uso de áreas já cultivadas. O trabalho também valoriza a agricultura familiar.
“Nós compramos de doze famílias de agricultores, nós damos assistência técnica com as mudas que eles precisam ter para fazer uma boa mandioca, um bom tucupi e a partir daí fazer com que esse agricultor tenha um lucro em cima disso. A gente trabalha no mercado sustentável de baixo impacto, nos próprios terrenos que as pessoas já costumam plantar mandioca, não é extrativismo agroflorestal”, explica Júlio Lobato.
Segundo a Embrapa, a produção de mandioca no Brasil tende a crescer nos próximos anos, impulsionada pela mecanização, industrialização de derivados e pelo aumento da demanda internacional por amidos tropicais. O uso de espécies mais produtivas e tecnologias adequadas pode elevar a produtividade em até 50%, especialmente na Região Norte. No cenário global, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) aponta que o cultivo vem crescendo cerca de 2% ao ano nas últimas duas décadas, tendência que deve continuar devido à importância da planta para a segurança alimentar, sua resistência às mudanças climáticas e seu uso crescente nas indústrias de alimentos, rações e biocombustíveis.
Texto de Mayra Leal