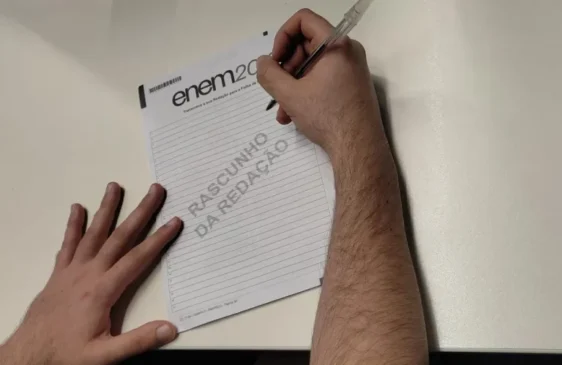Há um componente importante em “Assassinos da Lua das Flores”, que está ali, no meio do mar de cobiça e matança do novo clássico absoluto de Martin Scorsese: a noção de pertencimento. No caso da nação indígena americana Osage, de pertencer às próprias raízes familiares. Os Osage foram expulsos das suas terras, se abrigaram no meio do deserto, em Oklahoma, e descobriram imensas jazidas de petróleo, que geraram riquezas e também desgraças para a comunidade.
Em uma disputa com os brancos por dinheiro, na década de 1920, uma série de mortes manchou de sangue as imensas fazendas da região, levando o governo americano a mandar agentes do recém-criado FBI para investigar os crimes, já que as autoridades locais já estavam “contaminadas” por influências e subornos.
Esse período percorre todas as três horas e meia de filme, mas não é o que move as lentes de Scorsese. E, sim, as relações entre as comunidades tradicionais e como eles veem, com certa ingenuidade, que poderiam comprar a felicidade, mesmo que isso custasse o futuro dos seus herdeiros. Afinal, do peão da fazenda às autoridades, todos foram movidos pela ganância do ouro negro indígena. Eliminar um a um, por meio de tiros ou apropriação burocrática, é apenas uma intempérie nessa caminhada pelo capitalista rudimentar.
É aqui que Scorsese esfrega na cara de todos o nó da questão: o tanto que o entorno influencia nossas ações ambiciosas, passando por cima do amor, da empatia ou das relações sociais. E transformar isso em um épico grandioso sobre cobiça e morte é tarefa para um gênio de quase 80 anos, que tem pressa para contar histórias e enriquecer o próprio legado no tempo que resta.
Vários elementos narrativos de Scorsese estão ali, como a violência gráfica, a narrativa temporal entrecortada, além da montagem de excelência de Thelma Schoonmaker e a participação de grandes atores, em quase pontas, apenas pelo prazer de trabalhar com um grande diretor. Cada plano ou elemento de cena possui função narrativa. E o paralelo criado entre o petróleo, sangue e fogo em várias cenas é para aplaudir de pé, pois temos o cinema em seu estado mais puro, de apuro e domínio técnico/intelectual total, com o apoio preciso do diretor de fotografia Rodrigo Prieto (responsável, curiosamente, também por “Barbie”). E, para completar, a trilha sonora magnífica de Robbie Robertson, que morreu em agosto deste ano, antes de ver seu último trabalho lançado.
Leonardo Di Caprio está ótimo debaixo de maquiagens e próteses, como o anti-herói abobalhado, que se esgueira entre a ganância e o amor pela família. Já De Niro apresenta aquela classe já conhecida como um fazendeiro ambicioso e perigoso, enquanto trama crimes por baixo dos panos, em meio a discursos fatalistas ou paternalistas. Mas é Lily Gladstone quem realmente toma conta das cenas sempre que aparece. A personagem percorre todo o arco dramático com poucas falas, mas com semblantes que alternam fúria, leveza e resignação, sem precisar apelar para nenhum “oscar scene”. Mesmo assim, é favorita para a temporada de premiações em breve.
Martin Scorsese fez o melhor filme do ano até aqui e, arrisco dizer, um dos melhores da década, em meio a uma filmografia praticamente impecável, como poucos conseguiram na história do cinema. Vida longa ao nosso maior gênio vivo!