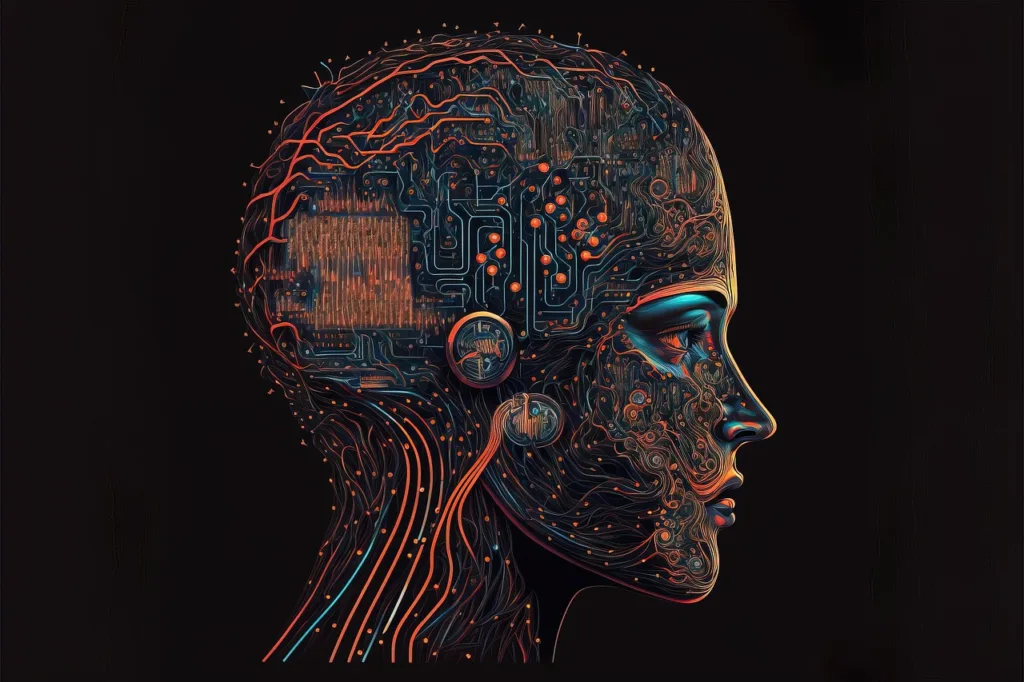
Matheus Colares do Nascimento
A primeira parte deste ensaio se pautou na análise de Benjamin de que as formas de percepção estética – parte da superestrutura da sociedade – está relacionada com as formas de produção – parte da infraestrutura. Nesse sentido, como antecipado brevemente, nenhuma análise da relação da forma da percepção estética estará completa sem uma análise das formas de produção que compõem a sua dimensão material.
No tocante a essa questão, a discussão na internet sobre a aplicação da IA na produção artística parece estar mais bem orientada, na medida em que identifica as consequências negativas que resultarão desse avanço tecnológico. Porém, mesmo neste caso, a discussão é pautada nos termos errados, pois identifica erroneamente a própria tecnologia da IA como sua causa, ao invés de focar na forma de organização da produção em que essa tecnologia é aplicada. Nesse contexto, o conteúdo da crítica toma uma direção ludista, porém, com elevado grau de superficialidade e ingenuidade.
O termo “Ludismo” se refere a movimentos de trabalhadores do século XIX na Inglaterra, cuja principal estratégia de ação política era a destruição das máquinas empregadas nos seus postos de trabalho. É comum conceber os ludistas como meros vândalos e reacionários tecnológicos. No entanto, como esclarece Hobsbawm, os ludistas não eram meramente odiadores de máquinas que as destruíam para expressar a dor da opressão que o seu emprego pelo capital lhes causava. Na verdade, a destruição das máquinas figurava como uma tática na sua forma de organização política direcionada para conseguir determinados objetivos políticos e, com efeito, os ludistas conseguiram algumas vitórias com isso. Ou seja, a destruição do maquinário pelos Ludistas não tinha o objetivo de impedir o seu uso, mas sim de chamar atenção para a luta pelos seus direitos.
Nesse sentido, o nível de consciência política desses trabalhadores estava a anos luz do nível dos que defendem a pura estética. Isso mostra como, para estes, a rejeição da tecnologia – diferentemente dos ludistas – se expressa meramente como fobia tecnológica e compromisso com um ideal estético reacionário e abstrato. Na verdade, a ojeriza à tecnologia do puro esteta não assume a forma de luta política em prol dos direitos da classe trabalhadora, por mais que superficialmente assim o pareça. Fundamentalmente, isso demonstra os limites e problemas ao abordar a questão a partir de um ponto de vista meramente moral e estético.
Embora os Ludistas já houvessem superado essa abordagem superficial, é compreensível que ela ainda exista, afinal, o maquinário é a forma concreta em que se materializa a disputa entre capital versus trabalho no sistema de produção capitalista. Essa oposição, porém, não é instituída no seio da relação ser-humano-máquina (ou ferramenta), mas apenas na medida em que esta é intermediária da relação de produção vigente e isso, por óbvio, só pode acontecer em um estágio do desenvolvimento social onde o capital ocupa o centro das relações sociais, isto é, no capitalismo.
Isso porque o uso de ferramentas é uma característica fundamental da intervenção humana na realidade, por meio do trabalho. O trabalho é, segundo Marx, um aspecto essencial da experiencia humana na Terra. As ferramentas de trabalho entram no processo do trabalho como extensões do próprio corpo humano que as usa para concretizar o trabalho em um valor de uso.
O emprego do maquinário a partir da evolução da manufatura para a indústria potencializa a capacidade da produção de valores de uso. O maquinário eleva a produção a um patamar superior. Enquanto a ferramenta só pode ser empregada a partir do empenho da força muscular, o maquinário adquire independência do corpo e se torna inteiramente emancipado da força humana. Gradualmente, a máquina se emancipa da ação humana. A trabalhadora que antes produzia manualmente o papel para que este, quando pronto, pudesse ser manualmente dobrado e transformado em envelope, agora liga uma máquina que produz o papel, o qual passa para outra máquina que o dobra em envelope. Tampouco a máquina altera a natureza do trabalho que sempre se encontra na origem da produção de um valor novo, seja este materializado em um produto ou em um máquina. Nesse sentido, a máquina por si só, não produz valor novo, mas apenas transfere para um produto o valor depositado em si quando da sua fabricação. Com o aumento da produtividade, uma menor quantidade de trabalho necessário é transferido para os produto, isso significa, menos horas são necessárias para produzi-lo e, nesse sentido, os produtos são barateados, ou a produtividade do trabalho aumenta. Porém, a natureza da atividade não muda com o emprego de diferentes ferramentas ou maquinário
O objeto de arte enquanto dotado de materialidade está inevitavelmente vinculado a esse processo. A produção em massa de tintas para a pintura diminui a quantidade de trabalho necessário para a produção de telas, na medida em que liberta o pintor do processo manual de mistura de substâncias para produzir as suas tintas. As tintas são barateadas e, nesse sentido, é possível pintar mais telas. O aumento na produtividade de filmes para fotografia permite a criação de mais fotografias e, alternativamente, a digitalização do processo fotográfico potencializa esse processo ainda mais. Nesse mesmo sentido, a IA potencializa a produção de objetos de arte ao libertar a mão do artista da necessidade de criar do zero uma obra de arte com base em uma fotografia, processo que passa a necessitar apenas do upload da foto na plataforma. Por óbvio, como dito, mesmo que diminua a necessidade de uma maior quantidade de trabalho a ser empregado, a IA, enquanto máquina, não se furta ao uso do trabalho por completo.
O argumento da banalização da arte pela IA, portanto, se equivoca mais uma vez ao associar tal banalização à ausência do uso da mão humana no processo de digitalização das fotos. A mão humana sempre estará lá, porém, contribuirá cada vez menos com quantidade de trabalho necessário, na medida em que o avanço tecnológico o exige cada vez menos para a reprodução material. Nesse sentido, por exemplo, mesmo que a IA não consiga criar uma obra de arte em um grau de perfeição similar à do Studio Ghibli, ela pode criar um esboço sobre o qual o artista pode dar alguns retoques. Novamente, esse processo diminui a necessidade de despender uma maior quantidade de trabalho na criação dos objetos de arte.
A princípio então a diminuição do trabalho necessário na reprodução material da arte livra a mão do artista do dispêndio de longas horas no seu processo de produção. No Capitalismo, porém, a produção dos diferentes valores de uso está subordinada à sua transformação em valor de troca. Isto é, produtos são produzidos para serem vendidos e não para atenderam as reais necessidades sociais humanas. O fato de o capital organizar a produção desse modo, porém, não altera fundamentalmente a natureza da atividade humana do trabalho que consiste na produção de valores de uso, isto é, de coisas que realizam alguma função material ou social. Porém, o consumo do valor de uso deixa de ser o objetivo da produção e a sua importância só se manifesta na medida em que ele é depositário social do valor de troca. Isto é, por óbvio, as coisas precisam ser úteis para alguma função social para serem produzidas e vendidas, porém, a finalidade da sua produção não é a sua utilidade para tal função social.
Nesse sentido, a diminuição do tempo de trabalho necessário nunca se traduzirá em um tempo de trabalho menor, mas apenas em maior produtividade, isto é, maior exploração da força de trabalho. Afinal, por mais que, com o ganho de produtividade, o trabalhador produza uma quantidade de valor igual ao seu salário em menos tempo de trabalho necessário, nada impede que o capitalista continue empregando a sua força de trabalho na mesma quantidade de tempo total. A pergunta que cabe fazer aqui, portanto, não é como o maquinário da indústria permite o aumento da produtividade. Mas sim, por que é possível ao capitalista que o maquinário seja empregue para o aumento da exploração e não para a diminuição do tempo de trabalho necessário. Isto é, se a máquina permite a produção de uma mesma quantidade de valor em uma quantidade de tempo menor, por que o trabalhador não trabalha menos? Ou seja, por que o capitalista pode empregar a força de trabalho por mais tempo que o tempo necessário para a reprodução do seu próprio valor?. A resposta está no fato de o/a a trabalhador/a vender a sua força de trabalho como commodity, visto que os instrumentos de produção necessários para o seu trabalho não estarem sob o seu próprio controle, mas no controle do capitalista, que os utiliza para impor uma relação de submissão a este/a. Nesse sentido, como afirma Marx, o que aparece como revolução tecnológica e que prejudica as condições de trabalho do/a trabalhador/a, tem na verdade o caráter de uma revolução política que tem origem na comodificação do trabalho e na apropriação privada dos meios de produção. Isto é, o que permite a exploração não é a revolução tecnológica, mas a revolução política que cria instituições como a propriedade privada dos meios de produção.
Por óbvio, seria impossível para o puro esteta chegar a uma tal conclusão. Afinal, para entender a relação de produção que permite a precarização do trabalho do artista é, em primeiro lugar, necessário reconhecer a materialidade do objeto de arte, coisa que ele nega. Ademais, ao não compreender as relações de produção por trás da dimensão material da arte, o puro esteta exalta estúdio Ghibli, na crítica do seu fundador, Myiazaki, à IA, como um último santuário da pura arte que retém o direito à sua estética a despeito da sua imitação pela IA. A ideia de que o puro esteta, como afirma Benjamin, no seu compromisso reacionário com a arte assume também um reacionarismo político vem à superfície neste contexto em dois aspectos fundamentais. Primeiro, na medida em que a defesa do direto do estúdio à sua estética toma a forma da defesa de um direito autoral, isto é, um direito de propriedade.
Segundo, ao ignorar que as formas de organização da produção citadas acima também têm lugar no próprio interior do estúdio. Myiazaki, enquanto fundador do estúdio Ghibli, pode bem ser o idealizador de todos os filmes, mas não é ele sozinho o produtor deles. Myiazaki não realiza, com sua própria mão, cada traço, cada frame, cada cena que aparece nos seus filmes. Myiazaki ele mesmo emprega trabalhadores em condição de assalariamento e, nesse sentido, também retida deles o fruto do seu trabalho.
De fato, mesmo que Myiazaki rejeite a aplicação de tecnologias como a IA na arte do seu estúdio, é impossível não considerar que essa rejeição assume um tom meramente demagógico. Afinal, os ganhos da empresa só seriam multiplicados com isso, pois baratearia imensamente o custo da produção das suas animações.







